
Presidente Ramalho Leite
Senhoras acadêmicas, Senhores acadêmicos
Minhas senhoras, Meus Senhores
Em Memórias do cárcere, chegando ao presídio de Ilha Grande, Graciliano Ramos é conduzido a uma das celas. Quando a pesada grade se abre e o autor de Vidas secas, resignado, adentra o xilindró tranquilamente, o carcereiro se volta para o colega ao lado e exclama em tom de deboche: “Esse parece um cadeeiro velho, entra como se estivesse entrando em casa”. Pois bem, longe de comparar aquela masmorra do Estado Novo com este palácio da cultura, aqui entro pela porta principal, e totalmente à vontade, como se de fato estivesse entrando em minha própria casa. Digo isso porque vejo este lugar como refúgio dos cultores das letras e das artes em seus mais surpreendentes e multifacetados estratos. No entanto, ouço a voz de minha consciência: Aldo Lopes, desça do salto e dê um freio de arrumação nesta oratória capenga. O que você fez para merecer a cadeira de Guilherme d’Ávila? O que você plantou para ser digno de entrar na Casa de Coriolano de Medeiros, Juarez da Gama Batista e Ariano Suassuna? Essa mesma indagação fizera Gonzaga Rodrigues em seu discurso de posse no longínquo 1993. Enquanto a preocupação do autor de Notas do meu lugar era enfrentar a rua dali em diante, correndo o risco da pose acadêmica arriar no primeiro grito de “vem cá, neguim”, a minha é não saber como e onde turbinar a biografia, de modo a manter a pose e suportar o peso da imortalidade.
Imaginei que os notáveis desta confraria acenaram para mim não sem antes procederem a uma justa avaliação dos meus escritos, dos meus pecados editoriais. E se vislumbraram aquele mínimo de qualidade estética exigido pelo cânone, não será cabotinismo dizer que o resultado de minha peleja literária ao longo de quase 40 anos foi o astrolábio, a agulha magnética e as cartas náuticas que guiaram a caravela até este porto seguro. E é exatamente aqui onde pretendo atuar junto com meus pares, brigar pela pauta principal da Academia, que é o estímulo ao conhecimento, à literatura e às artes. Farei isso, sim, no afã de deixar um legado proativo em favor da difusão e do desenvolvimento da cultura, farol que norteia o ser humano na grande jornada civilizatória.
Neste chão pisaram mulheres e homens verdadeiramente imortalizados por suas obras, sendo nosso dever cuidar da memória deles, do mesmo modo como nos dedicamos ao nosso labor literário, pois somos bruxos e demiurgos conscientes de que neste grande caldeirão fervilham as poções mágicas que justificam a existência desta Academia. O resto é salamaleque, convescote social para bajular velhos pimpolhos provincianos. Precisamos, sim, honrar esses nomes caros à literatura nacional e, por que não dizer, universal. Não aceito a pecha de regionalista para nenhum de nós. Sou contra as livrarias que mantêm em suas gôndolas placas indicativas de “autores da terra”. Da terra é gogo, é minhoca. Aqui se produz genuína literatura brasileira, porque somos da região que melhor conservou o baú linguístico, o mais autêntico repositório da cultura ibérica, do Cabo da Roca, em Portugal — onde termina a Europa e começa o mar tenebroso — ao Cabo Branco, na Paraíba, ponto mais oriental das Américas. O manauara Milton Hatoum, autor do romance Dois irmãos, se insurgiu contra esse cacoete supremacista e xenófobo da crítica que considera literatura regionalista tudo o que é produzido fora do eixo Sul-Sudeste. Tal discussão foi encampada e combatida em fins do século XIX, por Leon Tolstói. O autor do romance Guerra e paz e da novela A morte de Ivan Ilyich pintou a sua aldeia e foi tão universal quanto toda aquela plêiade de autores russos responsáveis pela maior literatura do mundo, a despeito da corrente que consagrava apenas como universal o que fosse produzido e editado na França. As demais obras de qualquer parte do planeta eram tidas como periféricas, regionalistas e, por conseguinte, literaturas menores.
Feito esse registro, volto às galerias desta casa. Outro dia, num fim de tarde, vagando por suas dependências, vendo tantos rostos emoldurados, confesso ter ouvido vozes, como se a textura dessas paredes ocultasse sulcos de um imenso disco de vinil, e a agulha de um gramofone correndo por dentro deles reproduzisse a voz multitudinária dessa grande obra coletiva. Imaginei uma tela tolch screen, onde eu, com um simples toque, manipulava essas imagens e trazia todos para uma grande confraternização. Se agora eu fechasse os olhos e me permitisse um delírio — como fizera o autor defunto ou o defunto autor, no livro Memórias póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis —, certamente daria de cara com Augusto dos Anjos mirando-se no espelhinho de bolso, o rosto refletido no sombrio cromatismo pictórico do genial confrade Flávio Tavares. Pois bem, à minha indagação ele decerto responderia: “Eu sou uma sombra, venho de outras eras”. Depois sairia pelas artérias da cidade, perguntando às pedras das ruas: “Para onde irá correndo minha sombra neste cavalo de eletricidade?”. Cem anos depois, no livro Ei-lo pulando de uma casa para outra, nas ruas da capital, o confrade Milton Marques Jr. traça o roteiro, o périplo do maior poeta do Brasil pela cidade da Parahyba, a urbe do centro histórico, cujo patrimônio se deteriora a olhos vistos, revelando a incúria e o descaso das autoridades com a nossa mais representativa memória.
O outro Augusto que vejo é o Crispim. Com seu olho metafísico, ele contempla, da cantaria de uma dessas janelas, a cruz do pátio da Igreja de São Francisco. O poeta e cronista de O herói sem rosto mira os pelicanos do cruzeiro que “roerão o próprio fígado e terão morte de pedra, porque pétrea é a sorte dos mitos e dos homens que não conseguem voar”. Depois disso, vem mais outro Augusto, Otávio, o Sitônio Pinto, imortal das serras de Princesa, parido sob o sol morno do Caaclima, universo que lhe deu régua e compasso para construir Dom Sertão, Dona Seca, tratado de geogerência sobre o Semiárido irregular. Acerca deste livro, o imortal Crispim disse que não iria faltar quem o comparasse com Casa-grande & senzala e Os Sertões. “Mas antes que o digam”, afirmou Luiz Augusto, “estou dizendo primeiro, Dom Sertão, Dona Seca é muito maior do que aqueles dois juntos”.
Volto-me agora aos vivos para externar meus agradecimentos pela concretização deste instante singular, e o faço primeiramente ao poeta Sérgio de Castro Pinto, imortal que, por sorte nossa, continua dando “carona às coronárias”, enquanto modula sua epifania minimalista para dizer que as cigarras são guitarras trágicas / plugam-se / se / se / se / nas árvores / em dós sustenidos / kipling recitam a plenos pulmões / gargarejam vidros moídos / o cristal dos verões.
Agradeço a Ângela Bezerra pela amizade, o tiro na mosca, e não em mim, que foi sua orientação no meu roteiro de estudos, em meados da década de 1990. Depois do poderoso ensaio Releitura de A bagaceira, o GPS da crítica especializada reprogramou sua rota para se adequar aos novos ventos soprados da Paraíba. As bases teóricas que deram sustentação à tese de Ângela começaram a se firmar quando ela, ainda estudante de Letras, acompanhada de Juarez da Gama Batista, em visita à casa do Cabo Branco, disse a José Américo que A bagaceira não era um romance da seca. Àquela altura, a futura presidente da APL já sabia que o seminal e inovador romance brasileiro nascera num ambiente de contrastes, cuja trama se desnovela a partir de dois universos distintos, de biomas antagônicos: o Sertão, onde não se tinha o que comer e se morria de fome, em contraposição ao Brejo de Areia, a terra de Canaã. Portanto, um romance de tese e antítese, e nunca um romance da seca.
Agradeço ao presidente Ramalho Leite por tudo, inclusive pelo talento de criar pequenas histórias para quem tem preguiça de ler as grandes, e mais talento ainda para criar grandes histórias destinadas a quem não tem preguiça de ler e sabe que o texto quando é bem escrito, por mais longo, árido e desgraçado que seja o tema, mais gracioso e palatável se nos apresenta. Agradeço também à secretária Tânia, pela paciência quase monástica, e sobretudo, pela boa governança na organização do cerimonial.
Senhor Presidente, acabo de livrar Vossa Senhoria de um vexame sem precedentes. Ouvi, emocionado, o discurso do confrade Hildeberto e confesso que por pouco meu coração não estourou. Não tenho mais idade para esse tipo de emoção. A de hoje veio em voltagem suficiente para me provocar um infarto, quem sabe um curto nos fios invisíveis por onde correm as faíscas do pensamento. Imagine o inconveniente e a dor de cabeça se eu tivesse morrido aqui, diante de todos, em plena posse. Criaria um problema para a sucessão, e outro maior ainda para Vossa Senhoria que ia ficar na obrigação de bancar meus funerais e ainda ter o trabalho de remover a urucubaca da cadeira 19. Mas sobrevivi, Sr. Presidente, para celebrar este momento e dizer que sou amigo de Hildeberto desde fins dos anos 70. Do livro da agonia ao mais recente A volúpia do erro: pensamentos provisórios, acompanho sua produção, tanto na poesia como na crítica literária, fato que o credencia como um legítimo merecedor da cadeira que ocupa nesta casa. O Cariri é a região mítica de onde ele extrai a matéria-prima com que molda sua poesia visceral e telúrica. Convive com traças, elfos, sacis, almas penadas, anjos, vaqueiros, demônios, monges, vampiros, santos e duendes. É um compulsivo devorador de livros. No romance O nome da Rosa, de Umberto Eco, há uma passagem que me faz lembrar o amor do poeta de Nem morrer é remédio pelos livros: é aquela quando Guilherme de Baskerville entra pela primeira vez na biblioteca da abadia e fica completamente deslumbrado: “Você se dá conta Adso”, grita o frade para o noviço, “estamos diante da maior biblioteca da Cristandade!”. Hildeberto, tenho certeza, teria dado o mesmo chilique do franciscano investigador, porque a biblioteca é o seu refúgio e bunker, enquanto a rede armada sob o caramanchão de madeira de lei, arrodeado de gaiolas e pássaros (que o Ibama não me ouça) é a rede de intrigas e de tramas mirabolantes que brotam das páginas dos livros que diariamente folheia.
Ensimesmado, é dali que Hildeberto evoca o tempo perdido, mas só lhe vêm à imaginação as pedras e os lajedos do seu condado de Aroeiras, os canários, as jandaias e os bem-te-vis do Sarafim, além da silhueta indefinida do avô que se confunde com os candelabros de mandacarus, símbolos bíblicos nascidos naqueles tabuleiros certamente para atenuar a dureza do Cariri profundo. Por aquelas veredas sinuosas, o menino Betuta cavalgou um dia agarrado às crinas do cavalo Baudelaire, o Pégaso da sua infância perdida, cujos galopes martelam até hoje na sua imaginação, como o trotar dos cavalos fantasmas assombrando as estradas de Média Luna, do belo romance Pedro Páramo, de Juan Rulfo.
Agradeço ao conterrâneo Luiz Nunes, o lendário Severino Sertanejo, codinome criado para assinar sua produção poética e cantar os aboios, mantras com que acalma a alma e seus bois da fazenda Serrote Alto, a duas ave-marias de distância de Água Branca. É ali o refúgio bucólico desse menestrel do tamanho de um camelo, mas com olhos de lince e inteligência de raposa. No tempo em que a vila dos caminhões queimados pertencia a Princesa, Luiz Nunes amava o meu avô, que amava o tabelião Zacarias Sitônio, que amava a filha Mariângela, que amava o primo Otávio Augusto, que amava o tio Zé Pereira, que amava Princesa.
Meus agradecimentos se estendem às confreiras e aos confrades José Nunes, Thélio Queiroz, Elizabeth Marinheiro, Abelardo Jurema, Tarcísio Pereira, Roberto Cavalcanti, Neide Medeiros, Maria das Graças Santiago, Loureiro Lopes. Sales Gaudêncio, Itapuã Boto, José Octávio, Chico Pereira, Ramalho Leite, Flávio Tavares, José Mário Branco, Astênio Fernandes, Rui Leitão e Helder Moura, pelos sufrágios, e ainda, a Milton Marques, Alexandre de Luna Freire, Eitel Santiago e Humberto Melo, que se manifestaram positivamente, mas a APL, por falta de recursos, não teve como providenciar o sistema virtual de votação para os justificadamente ausentes.
O jornalismo mandou representantes para esta casa. De Osias Gomes a Gonzaga Rodrigues, este hoje nonagenário e em pleno vigor criativo, sem nenhum favor o maior cronista vivo do Brasil. Osias Gomes conviveu com Zé Américo, quando da publicação de A bagaceira em 1928, livro do qual foi revisor. Francisco Gil Messias revela isso em seu magnífico O redator de obituários: “Os dois eram jovens e amigos, ligados ao jornal A União, que tantos escritores talentosos deu a Paraíba e ao Brasil”.
O fundador desta cadeira é Durwal Cabral de Almeida, sendo patrono Irineu Ferreira Pinto, o notável historiador paraibano que dá nome ao IHGP. Sem recursos para estudar na Faculdade de Direito de Recife, Irineu trabalhou nos correios e dedicou-se à pesquisa histórica e literária. Pelo seu trabalho intelectual recebeu medalha de ouro da Sociedade de História de Paris e medalha de bronze na Exposição de Turim. Escreveu Datas e notas para a História da Paraíba, 1909, A Paraíba de Lira Tavares, 1910, e O Cólera Morbus na Paraíba, também de 1910, entre outros títulos.
O ocupante anterior desta cadeira é Amaury de Araújo Vasconcelos, natural de Alagoa Grande, membro fundador da Academia de Letras de Campina Grande e sócio efetivo do IHGP, assumiu esta cadeira na APL em 1981. Escreveu as seguintes obras: Pedro Américo: gênio não só na pintura, discurso no VII Festival de Artes de Areia, 1982; A educação na obra de Gilberto Freyre (Anais do IV Congresso de Literatura, Campina Grande; Crônicas de viagens; Eu poeta em prosa e verso, 1988; Eu comigo: memórias (crônicas), além de ser o organizador da Antologia dos oradores paraibanos, publicada em João Pessoa (A União, 2001).
O derradeiro ocupante da cadeira 19 foi o historiador Guilherme Gomes da Silveira d’Ávila Lins, médico gastroenterologista e professor emérito da UFPB, membro da Academia Paraibana de Medicina e do IHGP, dentre inúmeras instituições culturais espalhadas pelo Brasil. Nascido em 26 de novembro de 1941, Guilherme faleceu em 3 de setembro de 2023. Quando se aposentou, em 2003, passou a se dedicar exclusivamente à pesquisa histórica, centrando seu foco no período colonial do Brasil, especialmente do Nordeste e, em particular, da Paraíba, com destaque para a ocupação holandesa. Dentre seus trabalhos publicados, figuram: Uma apreciação crítica do período colonial na “História da Paraíba Lutas e Resistência”, Pero de Magalhães Gandavo, (Editora UFPE, 2009), e Uma contribuição para os primórdios da História dos Beneditinos na Paraíba (edição do autor, 2019).
Estudioso e determinado, Guilherme se especializou em leitura paleográfica. Tal leitura, conjugada com outras técnicas, permite ao pesquisador decifrar escritas de documentos antigos. A paleografia surgiu depois de uma disputa entre religiosos, padres jesuítas e monges beneditinos, para refutar acusações de documentos falsos nos arquivos dos mosteiros e das igrejas. Tanto em seu trabalho recente, como nos demais, Guilherme leu manuscritos da Torre do Tombo, em Portugal, bem como nos mosteiros dos Beneditinos do Brasil, especialmente o da Paraíba, e descobriu inúmeras imprecisões referentes a datas e lugares que até hoje se repetem nos livros de História, necessitando de uma urgente e necessária revisão. Guilherme d’Ávila Lins foi eleito para ocupar esta cadeira, tomando posse em 9 de maio de 2008, quando foi saudado pelo acadêmico Manuel Batista de Medeiros.
Em prefácio à obra Uma contribuição para os primórdios da História dos Beneditinos na Paraíba, o historiador Arno Weling — da Academia Brasileira de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro — escreveu que Guilherme “acrescenta à historiografia paraibana e brasileira outra obra de valor, como de hábito bem fundamentada nas fontes documentais e que permitirá a futuros investigadores explorar aspectos que o autor sugere, sem desenvolver”. De acordo com o professor Arno, “este é o papel do trabalho científico: estabelecer o conhecimento possível num determinado tempo, pela análise do estado das questões e pelo uso crítico das fontes disponíveis, abrindo caminho a novas pesquisas”.
Divido em três fases a minha experiência de vida com a literatura. E serei breve. A primeira se inicia com minha mãe, professora, que tinha livros encaixotados em casa, muitos deles de histórias infantis clássicas, mas eu gostava mais dos folhetos de cordel que lia à luz de candeeiro na casa de minha avó, na fuzarca, para uma enorme plateia. Recordo-me de O pavão misterioso, A batalha de Oliveiros e Ferrabrás, As proezas de João Grilo, dentre tantos outros, sem esquecer as histórias da Bíblia, que é a mãe de todos os realismos mágicos do mundo. A essas leituras — que ficaram plasmadas em minha imaginação como um carimbo — some-se a figura de Marçal Ferreira, que saía do Espírito Santo das Águas Claras, onde morava, e vinha contar histórias todos os domingos na casa da minha avó. Andava a cavalo, tinha um cajado e lembrava Gandalf, o misterioso mago da Terra Média de O Senhor dos Anéis, de Tolkien.
Transferida para Manaíra, por perseguição política, minha mãe distribuiu logo a filharada na escola pública da cidade. Lembro de um episódio, por volta de 1965, e eu nem sabia o que era ditadura. Na escola a gente era obrigado a fazer ordem unida, rezar o Pai-nosso e cantar o Hino Nacional antes das aulas, sob a supervisão rígida e marcial de Antônio Soldado. Um dia, fui flagrado bagunçando o Hino e ganhei um cocorote do milico. Saí chorando, mas o fuxico chegou lá em casa primeiro do que eu. Mamãe me recepcionou em grande estilo, já com a chinela na mão. Levei umas lapadas.
Meu primeiro alumbramento não foi ver uma mulher nuinha como viu Manuel Bandeira. Meu primeiro alumbramento foi escutar Versos íntimos, de Augusto dos Anjos, declamado por um bêbado na calçada de um bar no entorno da feira de Princesa. Mas o primeiro grande coice que levei da literatura foi quando li Menino de engenho, de José Lins do Rego. Àquela altura, já estudava em João Pessoa, onde vim cursar o segundo grau e fiquei impressionado com a história daquele menino perdido criado na bagaceira, ali pertinho, na ribeira do Paraíba, bem nos massapês de Pilar.
Publiquei meus contos inaugurais no Correio das Artes, suplemento do jornal A União.
Meu primeiro livro de ficção, Lavoura de olhares, foi editado em 1988. Naquela época eu sobrevivia como repórter e, posteriormente, editor de cultura de alguns jornais locais. Fui por um curto período editor do Correio das Artes e nunca recebi um centavo por esse trabalho, num período em que o suplemento, por falta de incentivo, por pouco não interrompeu sua periodicidade que vinha desde 1949, quando foi fundado por Edson Régis.
Hoje, cotidiano e tributável, agradeço ao Senhor “por ter me consentido o domingo para ir com a família ao jardim zoológico dar pipoca aos macacos”, como diz Raul Seixas na canção Ouro de Tolo. Não me considero um homem especial. Podia ter sido mochileiro, cantador de viola, acrobata de circo, porteiro de cabaré, pescador, sacristão, garçom, missionário, mas acabei jornalista, e nisso sobrevivi por oito anos. Quando a coisa apertou, tratei de terminar o curso de Direito na UFPB e fui advogar. Obrigado, confrade Humberto Melo, meu amado professor, pela mão amiga. Tive a ventura de atuar profissionalmente na célebre banca de advocacia do meu amigo Zé Ramos, aqui presente, a quem externo meu agradecimento pelo apoio, agradecimento extensivo a Yuri, o cabeça do escritório, amigo de todas as horas e desoras, distinto e mui respeitável cavalheiro genro do confrade Damião Ramos Cavalcanti, ex-presidente desta Casa.
Minha sorte foi a esperteza, pois eu tinha tudo para não dar certo. Primeiro problema: não vim ao mundo em berço esplêndido, nasci de parto normal, aparado por uma parteira amadora e tive o cordão umbilical cortado à faca. Naqueles cafundós, mal sarava a infecção do umbigo, o infante podia virar anjo na primeira leva de coqueluche do ano; e com o potencial risco de ser condenado ao limbo, se os pais não chegassem a tempo à pia batismal. Como fases de um videogame, fui ganhando sobrevidas e aqui estou. Hoje, 17 de maio, é o dia do meu aniversário, e esta solenidade é um presente, o melhor que já recebi em toda a minha vida.
Acho que tenho um pouco de João Grilo, aquele anti-herói que saiu do folheto centenário e entrou na cabeça genial do alumioso e quântico Ariano Suassuna para sair de lá mais esperto, mais sabido e com todas as manhas e artimanhas suficientes para enfrentar os poderosos do Auto da Compadecida, a mais perfeita alegoria do sertão, que é o mundo todo, como disse Guimarães Rosa, lugar onde o indivíduo já nasce com essa malandragem intuitiva, genética, do contrário, não vinga.
Assim como eu, João Grilo é do sertão, cenário de injustiças e misérias, mas cheio de amarelos estradeiros e espertos que debocham dos poderosos, criam suas próprias normas de comportamento e são palhaços, saltimbancos, cantadores, sem-terra, negros, brincantes, comunistas, apátridas, bufões, bichas, violeiros, indígenas e estudantes, um eito de gente que foi não foi botar o bloco na rua e faz o carnaval, como diz Caetano Veloso em sua música Podres poderes.
Os personagens desse universo formam uma grande teia, o substrato precioso para qualquer construção literária e artística. Assim, os temas estão no ar, todas as tensões articuladas, estalando, os conflitos armados, as tramas engatilhadas, o cenário perfeito à espera do talento dos escritores, pintores, poetas, dramaturgos e cineastas. Um mundo à disposição desses bruxos sacralizados pelo dom de terem o condão de reinventar a vida.
O romancista é rival de Deus, disse José Lins do Rego. Dom Quixote — saído da pena de Cervantes há mais de 400 anos — é mais real do que Dom Fernando e Isabel, mais importante do que tantos reis e imperadores, todos efêmeros. Essas criaturas de papel e tinta saídas da imaginação dos escritores, têm mais força e poder do que muitos imperadores do mundo. Alexandre Dumas em suas memórias diz o seguinte: “É prerrogativa de romancistas criar personagens que matam aqueles dos historiadores. A razão é que os historiadores evocam meros fantasmas, enquanto os romancistas criam gente de carne e osso”. Muito obrigado.



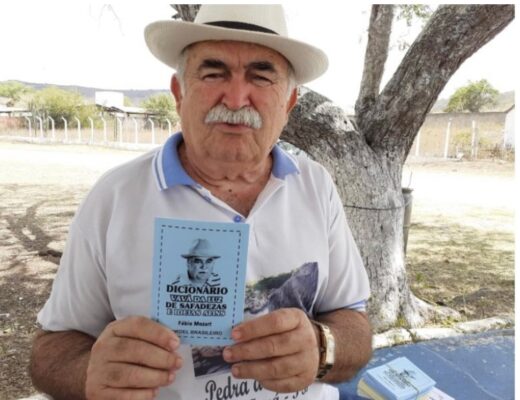
2 Comentários
Ave, Aldo, o novo imortal! Do púlpito da APL, urbi et orbi, incorporado do espirito do conterrâneo Alcides Carneiro, declamou sua entrada ao mundo da confraria dos alquimistas manipuladores de letras do alfabeto , transformando-as em narrativas e personagens de um universo paralelo, dotados de realidades e almas singulares.
Aldo, o alquimista da Serra do Marinho! Seu discurso foi o login para adentrar no mundo dos alquimistas paraibanos, imortalizados nos produtos de seus cadinhos mentais.
Parabéns, princesense! Titulado como imortal, aguardo que sua busca pela “pedra filosofal ” lhe inspire a produção de mais e melhores obras, a estimularem o interesse de seus contemporâneos para adentrarem ao universo imaginário onde se navega “por mares nunca dantes navegados, muito além da Trapobana”!
Aldo Lopes, grande contemporâneo da Casa do Estudante na Rua da Areia. Fã de Raul Seixas e não é atoa que ele citou no seu discurso de posse versos de uma musica do grande Raul. Mesmo distante, lhe acompanho desde quando vc começou a publicar contos e finalmente o primeiro livro que guardo com muito carinho.
Imortal duas vezes, na vida e na literatura. Siga com fé, quero lhe ver na Acadêmia Brasileira de Letras.